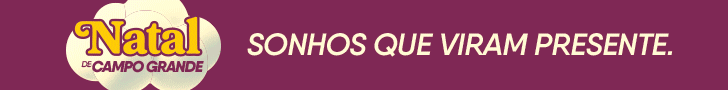*A partir da canção “Resposta ao Tempo” de Aldir Blanco e Cristovão Bastos, interpretada por Nana Caymmi.
A casa inteira cheirava a madeira molhada e lembrança antiga. As paredes, amareladas pelo tempo — ironia inevitável —, pareciam respirar em intervalos desiguais, como se o ar ali se movesse com dificuldade. Do lado de fora, um vento lento passeava pelo jardim morto. O céu, de um cinza espesso, parecia incapaz de decidir se era tarde ou amanhecer.
Foi então que ouvi as batidas. Três, compassadas, secas, como se marcassem um ritmo invisível.
Abri a porta.
Ele estava ali.
O Tempo.
Usava um sobretudo escuro, o tecido pesado, molhado nas barras, e um chapéu de feltro. O rosto, sem idade, tinha algo de criança e de velho ao mesmo tempo. O olhar — um abismo tranquilo, onde os ponteiros pareciam girar sem destino.
— Posso entrar? — perguntou ele, com uma voz que soava como o ranger de um relógio de parede prestes a dar a hora.
— Já está — respondi.
E, de fato, já estava. Sempre estivera.
Ele entrou sem cerimônia, olhou em volta, como quem revisita uma casa antiga de infância. Notou o relógio parado sobre a mesa.
— Parou às quatro e quinze — comentou, quase com ternura. — Gosto quando tentam me deter. É um ato de coragem e ingenuidade ao mesmo tempo.
— Ou de cansaço — retruquei. — Há quem não te suporte mais.
O Tempo sorriu. Não era um sorriso maligno; era piedoso. Um sorriso de quem sabe que sempre vence, mas sem orgulho.
— Engraçado — disse. — Vocês me acusam de tudo: de destruir, de afastar, de envelhecer. Mas sem mim, nada teria movimento.
— E sem ti, nada se perderia — respondi, servindo duas taças de vinho. — Há uma diferença entre mover e viver.
Ele aceitou o copo e sentou-se. A madeira da cadeira gemeu, como se também sentisse o peso de séculos. Entre nós, o tabuleiro. O velho tabuleiro de xadrez, guardado desde que aprendi a temer o silêncio.
— Vamos jogar? — propôs ele, movendo um peão branco.
— Sempre jogamos — disse eu. — Desde o primeiro dia em que chorei e você veio consolar.
O Tempo inclinou a cabeça, intrigado.
— Consolar?
— Sim. O pranto é a tua assinatura no rosto dos homens. Cada lágrima é tua presença.
Ele observou o vinho em seu copo, como quem vê o passado dissolver-se no vermelho.
— É curioso — murmurou. — Vocês sempre me associam à perda, nunca à descoberta.
— Porque a descoberta também é perda — repliquei. — Cada coisa nova que se aprende é algo que deixa de ser o que era. A infância, por exemplo — o preço do saber é a inocência.
Ele mexeu mais uma peça, sem pressa. O som do toque contra a madeira ecoou como um passo em corredor vazio.
— Eu os ensino a amadurecer — disse o Tempo, com voz branda. — Tudo o que é belo amadurece, tudo o que amadurece morre. É a regra.
— A tua regra — contestei. — Mas há beleza no que permanece, mesmo depois de ti.
— Permanência é ilusão — respondeu. — Tudo que persiste é apenas algo que ainda não percebi.
Sorri de leve.
— E, no entanto, há lembranças que você nunca consegue apagar.
Ele se inclinou para frente, curioso.
— Quais, por exemplo?
— O rosto dela. — Senti o ar da sala mudar, o frio se aproximar pelas frestas. — Tu passaste sobre nós, apagaste dias, meses, primaveras. Mas ela continua aqui, entre o instante e o eco.
O Tempo baixou os olhos.
— Eu não levo ninguém — disse, quase num sussurro. — Só abro as portas. São vocês que atravessam.
— Então por que zombas quando sofremos? — perguntei. — Por que ris quando choro?
Ele levantou o olhar, e pela primeira vez parecia cansado.
— Porque o sofrimento é o único momento em que realmente me percebem. O riso, o amor, o prazer — todos fingem que eu não existo. Só a dor me chama pelo nome.
O vento bateu mais forte nas janelas. Uma vela tremia na mesa, projetando sombras que dançavam sobre o tabuleiro.
— No fundo, tens inveja de nós — murmurei.
— Inveja? — repetiu ele, surpreso.
— Sim. Porque nós morremos, e tu não. E é a morte que dá sentido ao amor, à arte, à memória. Nós criamos porque sabemos que acabaremos. Tu não crias, apenas repetes.
O Tempo permaneceu em silêncio. O relógio, antes imóvel, emitiu um estalo discreto, como um suspiro.
— Talvez tenhas razão — disse ele, por fim. — Eu vejo nascer e morrer, mas não sei o que é estar. Não sei o que é ficar.
— Por isso te pareces com uma criança — comentei. — Brincas de envelhecer o mundo, mas não sabes crescer contigo mesmo.
O Tempo sorriu com uma doçura triste.
— Gostaria de aprender — confessou. — Ensina-me a morrer de amor.
— Não se ensina isso. Vive-se. É quando o coração compreende que a eternidade é pequena demais para o que sente.
Ele olhou para mim, e por um instante, parecia menor. O manto, as rugas, o peso dos séculos — tudo nele se diluía.
— E depois? — perguntou. — O que acontece depois de morrer de amor?
— Depois, desperta-se — disse. — O amor morre, mas o que o amor tocou permanece.
O Tempo pousou a mão sobre o tabuleiro e empurrou o rei para mim.
— Xeque-mate.
— Talvez — respondi. — Ou talvez o jogo só comece quando você parte.
Ele se levantou. O vento cessou. As cortinas repousaram.
Antes de ir, tocou o relógio.
Os ponteiros voltaram a girar.
— Um dia voltarei — prometeu.
— Sei — disse eu. — Mas quando vieres outra vez, já terei feito as pazes contigo.
O Tempo abriu a porta e saiu.
Lá fora, o céu começava a clarear, como se o mundo, por um breve segundo, esquecesse o que é passar. Fiquei olhando o tabuleiro. As peças imóveis. O vinho intocado.
O relógio agora marcava cinco horas.
E pela primeira vez, o som do tique-taque não me pareceu uma ameaça, mas um testemunho. Como se cada segundo dissesse, com ternura:
“Estou aqui. E ainda há tempo.”
• • • • •