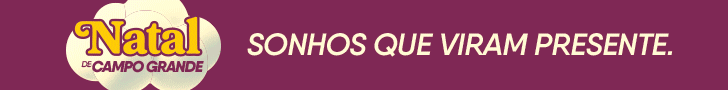“Viagens que não cabem no passaporte, mas transbordam das páginas.”
Há quem jure que para conhecer o mundo é preciso carimbar o passaporte. Eu, desconfiado que sou, prefiro os carimbos invisíveis que a literatura deixa na gente. Viajar pode ser encantador, claro, mas só a leitura tem a delicadeza de nos mostrar não apenas a paisagem, e sim as contradições que ela esconde. Paris é uma coisa vista da sacada de um hotel caro; outra bem diferente quando se entra nos esgotos com Victor Hugo.
Foi exatamente em “Os Miseráveis” que reencontrei a França de um século XIX que ainda soluçava a Revolução. Nas barricadas, Hugo mostra que Paris não é apenas um cartão-postal: é uma topografia moral, feita de desigualdade, justiça e redenção. Cada rua é uma escolha ética, cada esquina esconde um dilema humano.
Daí pulei para a madrugada de Haruki Murakami em “Após o Anoitecer”. Tóquio não aparece em monumentos ou cartões, mas em cafés abertos de madrugada, hotéis anônimos e letreiros de neon. Uma geografia sem mapas, feita de insônia e mistério. Murakami não nos leva a um Japão turístico, e sim a um Japão metafísico, onde a cidade pulsa como um corpo inquieto — e, convenhamos, nenhum GPS seria capaz de localizar isso.
Segui viagem para o interior dos Estados Unidos com Mark Twain, que me apresentou o Mississippi como quem apresenta um velho amigo. Em “Tom Sawyer” e “Huckleberry Finn”, o rio não é apenas cenário: é estrada, fronteira e refúgio. O Missouri e o Illinois aparecem mais vivos ali do que em qualquer atlas, porque Twain sabia que a geografia não está só nos mapas, mas nos meninos descalços, na lama, no racismo entranhado e na eterna busca por liberdade.
A travessia continuou até a Rússia do século XIX, pela mão desconcertante de Dostoiévski em “Os Irmãos Karamázov”. Aqui, a paisagem não se limita a aldeias geladas e mosteiros ortodoxos. A verdadeira geografia é a do espírito humano: tortuosa, conflituosa, tão cheia de abismos quanto a estepe. O romance nos mostra uma Rússia que é, ao mesmo tempo, território físico e labirinto filosófico — lugar onde cada discussão de taverna pode ressoar como uma catedral moral.
E já que os mapas literários não obedecem fronteiras, fui parar no Caribe de Gabriel García Márquez, em “Doze Contos Peregrinos”. Ali, o realismo mágico não é só estilo: é clima. O Caribe aparece como uma terra de sol inclemente e memórias sobrenaturais, onde santos convivem com fantasmas e viajantes carregam consigo um pedaço de mares tropicais mesmo quando estão em hospitais europeus. Márquez nos mostra que a geografia caribenha é inseparável da imaginação: um espaço onde realidade e mito caminham lado a lado, como vizinhos de rua.
Para encerrar — ou talvez recomeçar — voltei ao Brasil com Socorro Acioli, em “Oração para Desaparecer”. O território aqui não é fixo: é um bordado entre Brasil e Portugal, entre procissões e encantarias, entre santos e entidades. Um mapa de sincretismos, onde cada ponto cardeal é uma crença, e cada fronteira, uma invenção.
E assim percebo que a literatura é a mais generosa das geografias: não mede distâncias, mas intensidades. Não nos dá apenas o relevo dos lugares, mas o relevo das pessoas. Ler é descobrir que Paris também fede, que Tóquio também sonha, que o Mississippi também escraviza, que a Rússia também enlouquece, que o Caribe também inventa, que o Brasil também reza e desaparece.
Viajar com livros é aceitar que os mapas oficiais mentem por omissão. Só a literatura tem a ousadia de revelar a geografia secreta — essa que não cabe nos guias turísticos, mas que cabe inteira dentro de uma frase bem escrita. E talvez seja por isso que sigo lendo: não para riscar países na lista, mas para descobrir que o mundo é maior, mais estranho e mais belo do que qualquer fronteira.