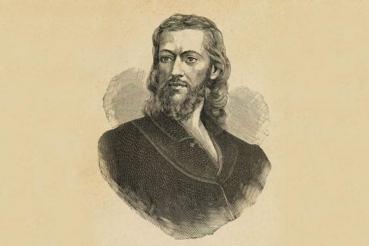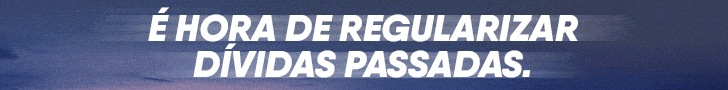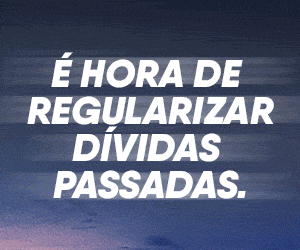Reduzir desmatamento sempre foi a principal estratégia do Brasil para diminuir emissões de gases de efeito estufa (GEEs) no contexto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC). Diferentemente da maioria dos 10 países mais emissores, nos quais energia é a principal fonte de emissões, o Brasil tem no combate ao desmatamento a principal ação com potencial para gerar resultados nesse cenário, com custos infinitamente menores.
Em 2010, quando o Brasil propôs ações de mitigação nacionalmente apropriadas, de natureza voluntária, como forma de contribuir com o Acordo de Copenhague, aprovado na COP15, estabeleceu que a redução de desmatamento na Amazônia e no Cerrado era a principal ação climática, reforçando a estratégia do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que tinha sido aprovado em 2008.
Em 2012, a taxa de conversão na Amazônia atingiu o menor índice histórico, 4.571 km2, evidenciando o quanto as políticas de comando e controle são cruciais. Em 2020, quando o teto esperado de desmatamento era 3.925km2, as taxas chegaram a 10.851km2. Já em 2021, o desmatamento escalou para 13.038km2, com uma retomada desenfreada.
Nesse ano, na abertura da COP26, em Glasgow, o governo se comprometeu a eliminar o desmatamento ilegal até 2030 e antecipou a meta de neutralidade climática brasileira de 2060 para 2050. O Brasil ancorou uma meta de neutralidade compreendendo todos os GEEs até 2050, tendo o desmatamento como principal “avalista” de sua meta.
O novo Plano Clima, que está sendo desenhado pelo governo, deve ser colocado em consulta pública no fim de julho. Naturalmente, o controle do desmatamento está no cerne das ações. O propósito deste artigo é jogar luz sobre como desmatamento está sendo considerado pelo Plano que embasará as ações e políticas voltadas para implementar a meta de descarbonização do Brasil.
A NDC atualizada pelo Brasil na COP29 propõe um corte de emissões de 59% a 67% até 2035, considerando o ano base de 2005, o que sugere um teto de emissões que deverá variar entre 1,05 Gt a 850 milhões de toneladas de CO2eq em 2030. A NDC é ambígua quanto a proposta de desmatamento zero. Propõe atingir o desmatamento zero, eliminando o desmatamento ilegal e compensando a supressão legal da vegetação nativa e as emissões de GEEs dela decorrentes, com foco na restauração de florestas.
Apesar de falar em desmatamento zero em alguns momentos, a NDC sugere a necessidade de criar formas para desestimular a conversão legal, com base em incentivos como crédito de carbono ou pagamento por serviços ambientais, sem apontar caminhos para fazer isso acontecer na escala necessária. Apesar de não usar esta expressão, a NDC trata do conceito de desmatamento líquido zero.
Em 2024, o Brasil também reforçou este enfoque nas metas de biodiversidade, propondo zerar o desmatamento e a conversão da vegetação nativa. O objetivo é reduzir a perda de biodiversidade eliminando o desmatamento e a conversão ilegais, além de compensar a supressão legal. Isso demonstra que, para o Brasil, as metas climáticas e de biodiversidade estão ligadas aos esforços para acabar com o desmatamento ilegal e criar incentivos que desestimulem a conversão legal. O desafio histórico de valorizar a floresta em pé persiste e não pode ser menosprezado.
A NDC atualizada prevê dois pilares para a agropecuária: (i) a conversão de novas áreas, principalmente de pastagens degradadas, ao mesmo tempo em que se expande a área de cultivos em sistemas integrados, como a integração lavoura-pecuária e a integração lavoura-pecuária-floresta; e (ii) ganhos de produtividade em sistemas de produção agrícola, por meio de maior migração para sistemas integrados e aumento de sistemas de alta produtividade. De forma sucinta, sugere que, nos próximos 10 anos, a agropecuária de baixo carbono, ancorada pelo Plano ABC+, deve ser fortalecida e que a recuperação de pastagens degradadas é uma enorme oportunidade para expandir a agropecuária sustentável.
Já o Plano Setorial de Agricultura e Pecuária, que entrará em consulta pública, traz uma inovação bastante curiosa. Adota uma metodologia para alocar as emissões de uso da terra entre os Planos de Agricultura e Pecuária e de Conservação da Natureza. Como sugere expressamente o documento, “essa alocação foi baseada na dinâmica fundiária existente no país, de forma que as políticas e ações fossem focadas para as diferentes categorias de ocupação do solo, podendo endereçar de forma mais direcionada seus desafios. Assim, no Plano de Conservação da Natureza são refletidas as ações que dependem diretamente do Poder Público, enquanto as ações do setor produtivo, que têm maior relação com as políticas setoriais e arranjos de implementação existentes nos imóveis rurais, ficam concentradas no Plano de Agricultura e Pecuária.”
O Plano Clima propõe o desmatamento zero, com a eliminação do desmatamento ilegal até 2030, redução da supressão legal de vegetação nativa mediante incentivos econômicos e compensação da supressão legal com base na restauração de 12 milhões de hectares até 2030 e 8,9 milhões de hectares entre 2031 e 2050. Mantém a retórica de desmatamento zero, ao passo que propõe, na verdade, um enfoque de desmatamento líquido zero, onde a restauração florestal se tornará uma enorme agenda para reduzir emissões no país.
A metodologia proposta, embora não detalhada no Plano, baseia-se no Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (RAD2022). Ao incorporar as emissões e remoções relacionadas à conversão de vegetação nativa para uso agropecuário, estima que 831 MtCO2e – o que corresponde a cerca de 70% das emissões totais brutas atribuídas ao setor de uso da terra no inventário nacional – passam a ser consideradas no escopo do Plano de Agricultura e Pecuária.
A mensagem que o Plano traz é clara: o governo pretende direcionar as emissões oriundas do desmatamento por categoria fundiárias, alocando para agropecuária emissões que ocorreram em áreas com Cadastro Ambiental Rural (CAR), Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), áreas de assentamentos da reforma agrária, terras quilombolas, dentre outras áreas desmatadas para uso agropecuário. Para o setor originário de uso da terra, que agora se chamara Plano Conservação da Natureza, serão consideradas as Unidades de Conservação, Terras Indígenas, glebas públicas não destinadas e áreas classificadas como vazio de informações.
Para estabelecer uma base de cálculo fidedigna é preciso aprimorar os sistemas de informação e dados públicos para classificar áreas privadas, mapear desmatamento nessas áreas e, a partir disso, poder alocar emissões. O material que irá para consulta pública não deixa claro, por exemplo, se a base do CAR sem validação foi adotada como referência, o que poderia alocar emissões para agropecuária que não foram causadas pelo setor. Vale frisar, que o SIGEF, do INCRA, permanece um cadastro deficitário, que na prática, deveria ser a base fundiária completa das áreas privadas no país, independentemente de tamanho.
Ademais, incluir áreas de assentamento e quilombolas na contabilidade de emissões de agropecuária menospreza a natureza da gestão dessas áreas, que é pública. Há regras claras neste sentido na Constituição Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no Estatuto da Terra, na Lei da reforma agrária, entre outras legislações.
A despeito de as áreas de assentamento terem produção agropecuária, o desmatamento nessas áreas é uma questão de gestão pública e, portanto, deve ser tratada no Plano de Conservação da Natureza. Assumir que essas emissões serão integralmente contadas para a agropecuária implica aceitar, de antemão, que todo e qualquer desmatamento em assentamentos passará a ser compreendido como responsabilidade do setor, ou do agronegócio, caso seja conveniente.
Há contradições importantes na versão divulgada que pretende embasar a estratégia do Plano Clima a ser aprovado e os dados e fontes oficiais do país.
O Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM) de 2024 mostra que em 2022, 25% do desmatamento na Amazônia ocorreu em áreas privadas ou sem informação. Para o RAD2022, o desmatamento dentro do CAR e do SISGEF somou 44,8% em 2022.
Seguindo a mesma lógica, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado (PPCerrado) aponta que o desmatamento em áreas privadas representou 63,47% em 2022. Para o RAD2022, a conversão dentro do CAR e do SISGEF somou 78,4%.
Ao assumir que a agropecuária foi responsável por 70% das emissões de uso da terra entre 2005 e 2022, é preciso alocar explicitamente o desmatamento causado pela agropecuária, em cada bioma, para poder calcular os impactos em emissões de acordo com os estoques de carbono médios por bioma, de acordo com o Inventário nacional.
Sem mapear e caracterizar espacialmente que a agropecuária causou esse desmatamento, destinar emissões baseadas em uma metodologia não oficial parece imprudente.
O Plano de Conservação da Natureza propõe basicamente reduzir desmatamento nas áreas indígenas, de unidades de conservação, glebas públicas não destinadas, criar novas áreas protegidas, identificar e demarcar novas terras indígenas e fomentar a restauração florestal. Assume também que o desmatamento será zero em 2030, e as áreas excepcionalmente autorizadas a desmatar farão compensação ambiental, permitindo que o setor tenha emissões negativas, considerando a captura de carbono da restauração.
Na prática, o novo Plano Clima transformará a agropecuária no maior setor emissor do Brasil, sem que exista uma metodologia oficial, embasada e amplamente discutida para tanto. A proposta de reduzir artificialmente o desmatamento, utilizando a restauração florestal como solução para a formação de estoques de carbono é uma opção que exige séria ponderação. Ademais, da forma como foi proposto, os esforços para mitigar e adaptar a agropecuária brasileira correm o risco de serem ofuscados por uma metodologia não oficial, que ainda precisa ser aprovada, em última instância, por todos os ministérios que compõem o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM).
Vale ainda salientar, que os estoques de carbono pela conservação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de Reserva Legal (RL), no contexto do Código Florestal, não estão contemplados no Plano de Agricultura nem no Plano de Conservação da Natureza. É evidente que a avaliação do CAR precisa avançar para aferir com exatidão as extensões de APP e RL.
Dados atuais do Serviço Florestal Brasileiro sugerem que existem 192 milhões de hectares de RL e 29 milhões de hectares de APP, além de 238 milhões de hectares de remanescentes de vegetação nativa, o que em hipótese alguma pode ser tolhido dos futuros inventários. Vale frisar, ainda, que é preciso aprimorar a forma de fazer o inventário para mensurar as contribuições que a captura de carbono no solo, pelas práticas agrícolas, proporciona para a produção agropecuária.
Ao presumir a ausência do desmatamento ilegal a partir de 2030, assume-se, de antemão, que todas as emissões deste desmatamento serão compensadas pela restauração. Esse enfoque cria um risco enorme de barrar a integração do mercado de carbono nacional junto aos mecanismos de mercado do Artigo 6 do Acordo de Paris, visto que o Brasil dificilmente estará em vias de cumprir com sua NDC. Isso é um requisito basilar para participar destes mecanismos.
Diante da complexidade dos vetores que causam o desmatamento, especialmente na Amazônia, é preciso lembrar que a persistência de níveis de desmatamento ilegal após 2030 prejudicará seriamente a credibilidade do Brasil para gerar e vender créditos de carbono, independentemente do volume de restauração que esteja ocorrendo. E vale frisar, que não se trata apenas de carbono florestal, mas de qualquer setor.
O afã de eliminar o desmatamento a qualquer custo pode inviabilizar o alcance da meta até 2035 e, mais especificamente, prejudicar o anseio de neutralidade climática do Brasil. Acabar com o desmatamento ilegal requer esforços extremamente significativos incluindo uma política de estado que priorize a luta contra diversos crimes. O risco de menosprezar os desafios para lutar contra o desmatamento ilegal e viabilizar soluções que desestimulem a conversão legal trará para os outros setores da economia pesos desproporcionais da nova meta climática brasileira.
*Rodrigo C. A. Lima
Sócio-diretor da Agroicone. Advogado, Doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), possui 20 anos de experiência em comércio internacional, meio ambiente e desenvolvimento sustentável no setor agropecuário e de energias renováveis.
• • • • •
A veracidade dos dados, opiniões e conteúdo deste artigo é de integral responsabilidade dos autores e não reflete, necessariamente, a opinião do Portal Capital News |